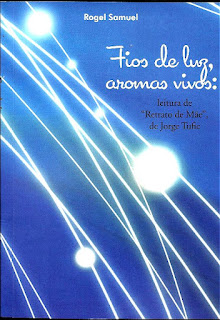RETRATO DE MÃE
Venham fios de luz, aromas vivos
misturar-se às palavras, à centelha
do louvor mais profundo deste filho
que se depura e sofre com tua ausência.
Venha o trigo do Líbano, a maçã
de que tanto falavas; venha a brisa
tecer mediterrânea esta saudade
que vem de ti quando por ti me alegro.
Que venha a primavera, saturando
vales, planícies, colorindo os montes,
noites de luar caiando os muros altos.
Venha a pedra da igreja onde ficaste
quando em febre te ardias. Venham lírios
rebrotados de ti, dos teus martírios
Teus cabelos castanhos, tuas tranças
fazem lembrar as madres de Cartago.
Doce mãe, sombra tépida, murmúrio
de sonâmbulas fontes; poucos sabem
teu nome, enquanto, fatigada embora,
dás-nos o pão e o leite, a flor e o fruto.
Poucos sabem te amar enquanto viva
e, quando morta, poucos também sabem
da fraqueza que em força transformavas.
Ai, retrato de mãe, quanto mistério
se converte na tímida lembrança
destes álbuns que lágrimas sulcaram.
Na verdade, Ramón, só de lembrá-la
um soluço arrebenta-nos a fala.
Lentilha, azeite doce, o acebolado
chia na frigideira de alumínio;
a casa está repleta de convites
para a janta frugal e acolhedora.
Nos arredores brinca o vento: a cerca
divisória, talvez, nada separa.
Vizinhando quintais vozes fraternas
cantam, mandam recados de ternura.
Assim te vejo, mãe, rosto suado
na lida da cozinha ou pondo a mesa.
Terrinas de coalhada, o pão redondo
a recender de ti, mais que do trigo.
Calendário sem datas, chão de outrora,
como tudo passou se tudo é agora?
Em tudo, minha mãe, te vejo e sinto.
Neste verniz antigo, neste cheiro
suavíssimo que vinha do teu corpo,
do pólen de tuas mãos, do hortelãzinho.
Em tudo, minha mãe, teu vulto amado
se desenha mais firme, e, lentamente,
vem dizer-me aos ouvidos qualquer coisa
desses anos que pesam sobre mim.
Em tudo, minha mãe, vejo este lenço
que à passagem da dor recolhe o traço
do sorriso que foste a vida inteira.
E, mesmo quando morta, entre açucenas,
ainda ressai de ti, poder divino,
a canção que adormece o teu menino.
Numa tarde opressiva de domingo,
o estrondo de tua queda: a irreversível
fratura que me dói quando te lembro
de olhos fixos em mim, quase a dizer-me
adeus, lágrimas ácidas rolando
sobre abismos drenados- tal o impacto
na dureza do chão, tal a dureza
do impacto na ossatura envelhecida.
Ninguém para colher-te o desamparo
desse tombo sem grito; apenas gestos
e vozes pressentidas me indicavam
zombeteiro demônio. Quem mais, Senhor,
de tão covarde, cínico e vilão,
faz da morte uma simples diversão?
Nossa infância era toda iluminada
pelas fontes da tua juventude.
Armadura que tínhamos freqüente
para afastar as sombras e o perigo.
Eram fartos os dias com teus peixes
mergulhados no arroz: postas de ouro
não largavam seus brilhos nem suas luas.
Na escassez, entretanto, te inquietavas.
Ainda te vejo, o porte esbelto indo
por aqueles baldios transparentes
onde a luz, de tão verde, pincelando
os ermos, quanta música expandia!
Voltavas quase noite ao doce abrigo,
e o mundo inteiro, mãe, vinha contigo.
Fui pedir ao canário que me desse
um raspão do seu canto fragmentário;
fui às nuvens do céu pedir mais nuvem
para o leve pedal que emite a voz;
debrucei-me, também, sobre os regatos
em busca de tua face; a brisa, enfim,
tentara descrever-te mas não pôde.
Andei, assim, por montes e calvários.
Ajoelhei-me ante o Cristo, bebi vinho.
Nada pude captar, nenhum remorso
fora maior que o meu nessa procura.
Somente agora, mãe, na tecelagem
destes versos que fiz para louvar-te,
em tudo posso ver-te e posso amar-te.
Estavas, posta no esquife, igual a todas
as defuntas convulsas, lapidadas.
Tão branca e tão distante companheira
destes ventos na pausa da agonia.
Quisera ter morrido quando foste,
nave de ti somente, abrindo rotas
na invisória partida, nesse coro
latente em nossas almas. Parecias
dormir, então, liberta como um trono.
Ó lágrimas de Orfeu, tempo escoado,
corpo de insones ânforas, mãezinha,
que sei de ti nos guantes da saudade?
Que sabemos de ti quando te vais,
se o teu vazio é feito de punhais?
Dormindo vinhas, mãe, já rente à brisa,
aos telhados de Sena, rente às asas
dos Derwiches que em sonho acorrentavas,
rente ao chão, rente à luz, à névoa rente
sobre a qual repousavas como em sonho.
Na música de um verso ou na toada
das cachoeiras, metáforas de ti
sobrevoam meus olhos consolados
pela visão dos seres que encarnaste.
A morte também veio, barulhenta,
mas galáxias cintilam nos teus passos,
vales de auroras curvas te embalsamam.
Por teres ido, fica mais sombria
a terra onde plantaste o nosso dia.
Que restara de ti, dos teus pertences?
Um vestido de linho desbotado,
um sapato comum, chinelo torto,
e nada mais, ó nuvem, se restara.
Tudo posto num saco humilde e roto.
Eu quis, então, medir esse legado,
mas limites não vi para a tristeza.
Davas a sensação de que o tesouro
se enterrara contigo. E era tão leve
quanto um sopro lilás, cantiga doce,
mansidão perdulária, água de fonte.
Como dizer-te verdadeiramente
numa sílaba só? Que eternidade
pode igualar-se à voz desta saudade?
Extravaso em rugidos carcerários
minha raiva de ser todo impotente,
barro de horas fantásticas, mas barro
solancado de escamas, quilhas, peito,
maremoto pulsar, refugo e tábua,
sobras, talvez, calungas e malárias
de um canto mais diuturno, menos frágil,
mais perene ou barroco, mais você
na inventação das ilhas, regelado
marujo, testemunha das nascentes,
dos dilúvios, da Cóchida e Gomorra;
em ti, Jorge de Lima, eu busco a vaca
resoluta dos pântanos enormes,
e louvo a minha mãe, enquanto dormes.
Ampulheta de ignotas ressonâncias,
me contas do teu mar, do teu navio;
mar e portos lavados pelo brilho
dos teus olhos cativos ao marulho
de outros mares guardados bem no fundo
das arcas de teu pai: este luarense
das tascas litorâneas e do vinho.
Que são lucandas, mãe? Que são topázios?
E a Tour d’ Eifel, que nuvens ela toca
ao se erguer entre os pássaros do orgulho?
E, te ouvindo contar destas viagens,
teu filho adormecia, tatuado,
ora pelo rigor de tua costura,
ora pelos encantos da aventura.
Volta comigo o trágico cenário,
e algo de inumerável me angustia.
Um cântico, talvez, de olhos miúdos,
cardume de fantasmas, trastes velhos.
Soma de nossos dias, ponte amarga
entre os bichos e a terra; pedras soltas,
navegantes do caos: roupas no tanque
onde o limo se avilta e se devora.
E o teu sangue, mãezinha? Que algazarra
no espaço vesperal de um plenilúnio
feito de nossas urzes cotidianas!
Deve ser esta a voz que me chamava,
o rosto que me quer. E a luz que fica
neste pátio me açoita e crucifica.
Nem maior nem menor do que ninguém,
me banho deste sol, bebo esta água
e sorvo a taça azul dessa manhã
num canto de quintal feito por ti.
Entre gato e cachorro as folhas verdes
de um jovem pé de frutas: me debruço
lendo as coisas e os seres pequeninos,
umas de tempo findo, outros em luta.
Em luta por um talo ou por um nada,
e na luta maior e mais profunda
dos monturos calados chão adentro.
Vou pedindo licença e vou entrando
nos buracos, nas fendas, neste cheiro
que um dia será rosa em meu canteiro
Foi lendo-te, Chalita, que no breve
mapa do nosso Líbano deparo
a infância de minha mãe: ouro e neve,
o monte, a vida, o sol e o clima raro.
Chat-il-baher, Batrun. Que tinta escreve
o som, a voz, a luz e este disparo
de asas que me escravizam? Tanto deve
ter sido ela feliz e o tempo claro.
Mas o fado, Chalita, esse outro mapa
que em suas mãos eu lia, é tão diverso
daquele em que se nasce e nos escapa.
Brisa mediterrânea, fêmea austera,
seu martírio, depois, lento e perverso,
ainda assim nos trazia a primavera.
RETRATO DE UMA OBRA-PRIMA
Rogel Samuel
É um tema banal, popular, mesmo vulgar. A mãe, já
tão gasto motivo dos cadernos poéticos e saudades, pois todos nós tivemos ou
temos a mãe a saudar, a lembrar, a louvar, a chorar.
Mas Jorge Tufic é um poeta excepcional: com que realizou
sua obra-prima, sonetos pós-modernos em que ele traça o perfil, o “Retrato de
mãe“, de sua verdadeira mãe, ou da personagem mãe.
O pequeno livro é uma obra-prima em quinze sonetos. Começa
por uma invocação:
Venham fios de luz, aromas vivos
misturar-se às palavras, à centelha
do louvor mais profundo deste filho
Invocada, a mãe começa a delinear-se, começa a
aparecer, vem em fragmentos, pouco nítida, mas forte, mas sentida, pressentida, sim,
começa ele a pintar o retrato interno da dulcíssima Mãe e que logo todos nós
assumimos, conjuntamente, nossa mãe síntese e simbólica, a Fonte, semente e
nome de nossa vida, que tudo nos deu.
Tema freudiano, pois.
E no segundo soneto logo aparece um mistério: Quem
será este desconhecido Ramón que aparece no penúltimo verso?
É D. Ramón Angel Jara, Bispo de La Serena, Chile,
citado no pórtico do livro. No livro há citações, pós-modernidade. Ou seja, a
obra se diz: “Calma, eu sou apenas uma obra literária”.
A descrição, o retrato começa pelos cabelos, as
tranças, a voz, a lembrança.
Teus cabelos castanhos, tuas tranças
fazem lembrar as madres de Cartago.
Depois vem a casa, a cozinha, as comidas da
culinária libanesa, a lentinha, o azeite, as cebolas fritas, a coalhada, o pão
redondo, que a Mãe preparava... mas tudo isso passou. Onde estão as comidas, os
pratos de lentilha, a terrina de azeite para as coalhadas, as cebolas fritas?
Tudo passou... Como, ao redor da casa, o vento. Como passou o vento do tempo.
Também passam a cerca do quintal, os vizinhos, as vozes cantantes, e passaram. E
o que passa é aquele Calendário sem datas, o chão do passado, o que passa. A
casa da mãe. O que passa.
Lentilha, azeite doce, o acebolado
chia na frigideira de alumínio;
a casa está repleta de convites
Que dizer sobre o quarto soneto? Escreveu Dom Ramon
Angel Yara, bispo de La Serena, Chile, no seu igualmente “Retrato de Mãe”:
"Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco
de Deus; E pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo” (Tradução de
Guilherme de Almeida).
Que dizer do quarto soneto?
Trata da permanência da mãe. Do que permanece, na lembrança. Mãe não
morre nunca. Somos nós mesmos. Nossa Mãe somos nós mesmos, em continuidade
dialética.
Em tudo, minha mãe, te vejo e sinto.
Neste verniz antigo, neste cheiro
suavíssimo que vinha do teu corpo,
A permanência é essa, da mãe, que mesmo morta, ainda
dói em nós, que ainda cantante, ainda existente, que ainda alivia, ainda
consola, ainda sorri.
A mãe é eterna!
Sim, eterna mas morre: é o quinto soneto.
A morte do eterno. A queda dos deuses. E num
domingo! É o soneto da morte, do fim. O
Eterno, como bem viu Hannah Arendt, é a eternidade do instante. O imortal é a
presença da lembrança.
Façamos aqui a
distinção (que Hannah Arendt estabelece) entre imortalidade e eternidade, para
esclarecimento dessa alienação do mundo moderno.
Imortalidade
significava
continuidade no tempo através da realização de grandes feitos, obras e feitos
notáveis. Por sua capacidade de produzir obras e de realizar feitos imortais,
os imortais podiam, através das marcas de sua passagem, participar da natureza
dos deuses. Na antigüidade clássica, havia os que ambicionavam à fama e,
portanto, à imortalidade, e havia os que, satisfeitos com os prazeres que a
natureza lhes oferecia, viviam e morriam como animais. Nesses dois casos,
percebe-se uma alienação e uma falta de compreensão do real.
Outra coisa era
a experiência do eterno, própria do
filósofo no sentido estrito do termo, a visão da eternidade ainda que
passageira. Diz Arendt que depõe muito a favor de Sócrates o fato de
ele não ter escrito nada, porque não estava preocupado com a fama, ou seja, com
a imortalidade. O filósofo vive a experiência do eterno. Se escreve sua
experiência, ambiciosa a imortalidade, pois procura deixar para a posteridade
algum vestígio de si, a fama.
A experiência do
eterno, diz Arendt, só pode ocorrer fora da esfera das ambições humanas. Se
morrer é deixar de estar entre os homens, a experiência do eterno é morte. O
contrário é a preocupação com a fama, com a imortalidade. Eternidade e
imortalidade são dessa maneira, integralmente contraditórios.
Tal experiência,
a percepção do Eterno, diz Hannah Arendt, tem de ser rápida, pois ninguém pode
suportá-la durante muito tempo. O condicionado e mortal não pode encarar o
eterno na sua eternidade, senão indiretamente, rapidamente, numa intuição
momentânea. O eterno está fora do mundo do homem. A imortalidade , ao
contrário, reside entre os homens, e criação humana. O eterno não, não é
condição de condicionamento humano, não é tocado pela ambição humana. O eterno
advém ao homem, quando este nada deseja, na imobilidade do pensamento,
silenciado pela vida contemplativa. Heidegger sabia disso. Pois o eterno não
pode ser convertido em atividade humana, e uma iluminação que não se consegue
com o movimento do esforço, mas com a observação pura dos movimentos do pensar.
O eterno é positivo, mas nasce quando
há radical negação. Nem pode ser aprisionado pelo discurso, pois não pode ser
objetivado: “O Tao que tem nome não é o Tao”. O eterno é mais espaço do que
razão. Está onde o “eu” não se encontra. Nem está delimitado no tempo, na
convenção e no produto humano, pois o eterno é presença. E por isso não pode
ser “usado” para a glória e fama do homem. Mais: o eterno não está no sujeito,
porém vigora quando desaparecem sujeito e objeto. Ou quando não há espaço entre
observador e coisa observada, como diz Krishnamurti.
A Imortalidade, entretanto, foi impiedosamente abalada com a queda do Império
Romano. A destruição de Roma mostrou cruelmente que nenhum produto do homem
pode ser considerado eterno (ARENDT, Hanna. A condição humana. Rio de Janeiro,
Forense/Rio de Janeiro, Salamandra/São Paulo, Ed. Universidade São Paulo. 1981.
339p.).
Portanto, o
eterno é a presença. Assim como a presença de minha mãe morte ainda dói, hoje,
enquanto escrevo, tantos anos se passaram de sua morte. O fato de minha mãe
ainda doer em mim significa que ainda está viva comigo, eu que vivi ao longo da
vida sempre longe dela (talvez por isso não tenho nenhuma foto de minha mãe na
parede, para não alimentar o fogo de uma dor antiga).
Numa tarde opressiva de domingo,
o estrondo de tua queda: a irreversível
fratura que me dói quando te lembro
A seguir o poeta retrocede, se volta para o tempo
materno, ou seja, a infância, a iluminada época da Mãe, da mãe protetora
armadura fonte. Nossa juventude dela vinha, nossa fartura se originava nela. A
poderosa Mãe, entretanto pobre, que se inquietava na escassez. Mãe bela,
esbelta, musical. Mãe mítica! Poderosa fantasia posta em ouro. Em brilhos e
luas. Amada que quando voltava trazia o mundo inteiro em seus cabelos, em suas
vestes, em suas mãos. Mãe fada.
Nossa infância era toda iluminada
pelas fontes da tua juventude.
O texto é escrito com o intuito, com a inquietante
busca de recuperar a imagem daquela criatura mítica, divina, dama antiga, fada
e santa, busca infinita de volta ao útero materno, ao ninho antigo, àquele
aconchego materno, onde tudo estava em paz, onde nós nos alimentávamos, nos
encontrávamos com nossa originária semente, e para isso, para esse canto, o
poeta pede a voz do Narciso, na água dos regatos, a imagem da Mãe, dela nunca
nós nos poderemos libertar, aquela que em nós vive e dela nunca sairemos.
Mas nada.
Somente versos. Somente nos versos a sua fotografia.
O que a lembrança traz, porém, gera um pavor, o
horror da recordação, o recordar aquela cena que não devia de ser nunca
recordada, a agonia, a morte, a terrível e insuportável cena da morte, daquela
que foi fonte da vida, da alegria, da proteção, abrigo, auxílio, amparo, e por
quê?, e como de repente aparece este camoniano “estavas, posta no esquife” -
ainda que ela esteja ali liberta como num trono, entronizada no Eterno
sono, o sonho rente à luz, Iluminada – a
morte veio mas também vieram as galáxias, vieram vales luminosos, abriram-se auroras
fartas – mas por teres ido ficam mais sombrios os dias aqui deixados:
Estavas, posta no esquife, igual a todas
as defuntas convulsas, lapidadas.
Depois da morte do Eterno, depois de a mãe ser
“posta em esquife”, naquele terrível verso camoniano, ficam as relíquias, os
pertences, o vestido de linho desbotado, o sapato, o chinelo, a nuvem, tudo
posto num saco tosco, humilde e roto, o legado de uma tristeza infinita, porque
o tesouro se enterrara com ela mesma, e não há como dizê-la.
A morte da mãe.
E o canto se transforma em rugidos carcerários,
impotentes, de barro, quilhas, peito, e onde o poeta revela seu modelo Jorge de
Lima, sua poética, seu traçado.
A viagem é a sua morte.
A morte o tempo, as ampulhetas, as ressonâncias. A
que mar foi levada aquela amada? Aquelas viagens se tornam a viajar.
A lembrança neste fim que sempre volta, algo
inumerável, roupas no tanque, fantasmas trastes. A voz da mãe. Calvário de
lembranças.
O soneto pós-moderno faz reflexões literárias, como
essa referência a (Gabriel) Chalita. Ou seja, o poeta ressalta o caráter
literário da obra, que se refere a si mesma.
O poeta como que diz: “não chore, isto é apenas
literatura”.
E o retrato de mãe fica incompleto, só fragmentos de
lembranças, como pedaços de imagem.
Mas o clima, a alma sai inteira, como quem abre a
luz da primavera.
Venham fios de luz, aromas vivos
misturar-se às palavras, à centelha
do louvor mais profundo deste filho
que se depura e sofre com tua ausência.
Venha o trigo do Líbano, a maçã
de que tanto falavas; venha a brisa
tecer mediterrânea esta saudade
que vem de ti quando por ti me alegro.
Que venha a primavera, saturando
vales, planícies, colorindo os montes,
noites de luar caiando os muros altos.
Venha a pedra da igreja onde ficaste
quando em febre te ardias. Venham lírios
rebrotados de ti, dos teus martírios
Teus cabelos castanhos, tuas tranças
fazem lembrar as madres de Cartago.
Doce mãe, sombra tépida, murmúrio
de sonâmbulas fontes; poucos sabem
teu nome, enquanto, fatigada embora,
dás-nos o pão e o leite, a flor e o fruto.
Poucos sabem te amar enquanto viva
e, quando morta, poucos também sabem
da fraqueza que em força transformavas.
Ai, retrato de mãe, quanto mistério
se converte na tímida lembrança
destes álbuns que lágrimas sulcaram.
Na verdade, Ramón, só de lembrá-la
um soluço arrebenta-nos a fala.
Lentilha, azeite doce, o acebolado
chia na frigideira de alumínio;
a casa está repleta de convites
para a janta frugal e acolhedora.
Nos arredores brinca o vento: a cerca
divisória, talvez, nada separa.
Vizinhando quintais vozes fraternas
cantam, mandam recados de ternura.
Assim te vejo, mãe, rosto suado
na lida da cozinha ou pondo a mesa.
Terrinas de coalhada, o pão redondo
a recender de ti, mais que do trigo.
Calendário sem datas, chão de outrora,
como tudo passou se tudo é agora?
Em tudo, minha mãe, te vejo e sinto.
Neste verniz antigo, neste cheiro
suavíssimo que vinha do teu corpo,
do pólen de tuas mãos, do hortelãzinho.
Em tudo, minha mãe, teu vulto amado
se desenha mais firme, e, lentamente,
vem dizer-me aos ouvidos qualquer coisa
desses anos que pesam sobre mim.
Em tudo, minha mãe, vejo este lenço
que à passagem da dor recolhe o traço
do sorriso que foste a vida inteira.
E, mesmo quando morta, entre açucenas,
ainda ressai de ti, poder divino,
a canção que adormece o teu menino.
Numa tarde opressiva de domingo,
o estrondo de tua queda: a irreversível
fratura que me dói quando te lembro
de olhos fixos em mim, quase a dizer-me
adeus, lágrimas ácidas rolando
sobre abismos drenados- tal o impacto
na dureza do chão, tal a dureza
do impacto na ossatura envelhecida.
Ninguém para colher-te o desamparo
desse tombo sem grito; apenas gestos
e vozes pressentidas me indicavam
zombeteiro demônio. Quem mais, Senhor,
de tão covarde, cínico e vilão,
faz da morte uma simples diversão?
Nossa infância era toda iluminada
pelas fontes da tua juventude.
Armadura que tínhamos freqüente
para afastar as sombras e o perigo.
Eram fartos os dias com teus peixes
mergulhados no arroz: postas de ouro
não largavam seus brilhos nem suas luas.
Na escassez, entretanto, te inquietavas.
Ainda te vejo, o porte esbelto indo
por aqueles baldios transparentes
onde a luz, de tão verde, pincelando
os ermos, quanta música expandia!
Voltavas quase noite ao doce abrigo,
e o mundo inteiro, mãe, vinha contigo.
Fui pedir ao canário que me desse
um raspão do seu canto fragmentário;
fui às nuvens do céu pedir mais nuvem
para o leve pedal que emite a voz;
debrucei-me, também, sobre os regatos
em busca de tua face; a brisa, enfim,
tentara descrever-te mas não pôde.
Andei, assim, por montes e calvários.
Ajoelhei-me ante o Cristo, bebi vinho.
Nada pude captar, nenhum remorso
fora maior que o meu nessa procura.
Somente agora, mãe, na tecelagem
destes versos que fiz para louvar-te,
em tudo posso ver-te e posso amar-te.
Estavas, posta no esquife, igual a todas
as defuntas convulsas, lapidadas.
Tão branca e tão distante companheira
destes ventos na pausa da agonia.
Quisera ter morrido quando foste,
nave de ti somente, abrindo rotas
na invisória partida, nesse coro
latente em nossas almas. Parecias
dormir, então, liberta como um trono.
Ó lágrimas de Orfeu, tempo escoado,
corpo de insones ânforas, mãezinha,
que sei de ti nos guantes da saudade?
Que sabemos de ti quando te vais,
se o teu vazio é feito de punhais?
Dormindo vinhas, mãe, já rente à brisa,
aos telhados de Sena, rente às asas
dos Derwiches que em sonho acorrentavas,
rente ao chão, rente à luz, à névoa rente
sobre a qual repousavas como em sonho.
Na música de um verso ou na toada
das cachoeiras, metáforas de ti
sobrevoam meus olhos consolados
pela visão dos seres que encarnaste.
A morte também veio, barulhenta,
mas galáxias cintilam nos teus passos,
vales de auroras curvas te embalsamam.
Por teres ido, fica mais sombria
a terra onde plantaste o nosso dia.
Que restara de ti, dos teus pertences?
Um vestido de linho desbotado,
um sapato comum, chinelo torto,
e nada mais, ó nuvem, se restara.
Tudo posto num saco humilde e roto.
Eu quis, então, medir esse legado,
mas limites não vi para a tristeza.
Davas a sensação de que o tesouro
se enterrara contigo. E era tão leve
quanto um sopro lilás, cantiga doce,
mansidão perdulária, água de fonte.
Como dizer-te verdadeiramente
numa sílaba só? Que eternidade
pode igualar-se à voz desta saudade?
Extravaso em rugidos carcerários
minha raiva de ser todo impotente,
barro de horas fantásticas, mas barro
solancado de escamas, quilhas, peito,
maremoto pulsar, refugo e tábua,
sobras, talvez, calungas e malárias
de um canto mais diuturno, menos frágil,
mais perene ou barroco, mais você
na inventação das ilhas, regelado
marujo, testemunha das nascentes,
dos dilúvios, da Cóchida e Gomorra;
em ti, Jorge de Lima, eu busco a vaca
resoluta dos pântanos enormes,
e louvo a minha mãe, enquanto dormes.
Ampulheta de ignotas ressonâncias,
me contas do teu mar, do teu navio;
mar e portos lavados pelo brilho
dos teus olhos cativos ao marulho
de outros mares guardados bem no fundo
das arcas de teu pai: este luarense
das tascas litorâneas e do vinho.
Que são lucandas, mãe? Que são topázios?
E a Tour d’ Eifel, que nuvens ela toca
ao se erguer entre os pássaros do orgulho?
E, te ouvindo contar destas viagens,
teu filho adormecia, tatuado,
ora pelo rigor de tua costura,
ora pelos encantos da aventura.
Volta comigo o trágico cenário,
e algo de inumerável me angustia.
Um cântico, talvez, de olhos miúdos,
cardume de fantasmas, trastes velhos.
Soma de nossos dias, ponte amarga
entre os bichos e a terra; pedras soltas,
navegantes do caos: roupas no tanque
onde o limo se avilta e se devora.
E o teu sangue, mãezinha? Que algazarra
no espaço vesperal de um plenilúnio
feito de nossas urzes cotidianas!
Deve ser esta a voz que me chamava,
o rosto que me quer. E a luz que fica
neste pátio me açoita e crucifica.
Nem maior nem menor do que ninguém,
me banho deste sol, bebo esta água
e sorvo a taça azul dessa manhã
num canto de quintal feito por ti.
Entre gato e cachorro as folhas verdes
de um jovem pé de frutas: me debruço
lendo as coisas e os seres pequeninos,
umas de tempo findo, outros em luta.
Em luta por um talo ou por um nada,
e na luta maior e mais profunda
dos monturos calados chão adentro.
Vou pedindo licença e vou entrando
nos buracos, nas fendas, neste cheiro
que um dia será rosa em meu canteiro
Foi lendo-te, Chalita, que no breve
mapa do nosso Líbano deparo
a infância de minha mãe: ouro e neve,
o monte, a vida, o sol e o clima raro.
Chat-il-baher, Batrun. Que tinta escreve
o som, a voz, a luz e este disparo
de asas que me escravizam? Tanto deve
ter sido ela feliz e o tempo claro.
Mas o fado, Chalita, esse outro mapa
que em suas mãos eu lia, é tão diverso
daquele em que se nasce e nos escapa.
Brisa mediterrânea, fêmea austera,
seu martírio, depois, lento e perverso,
ainda assim nos trazia a primavera.